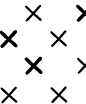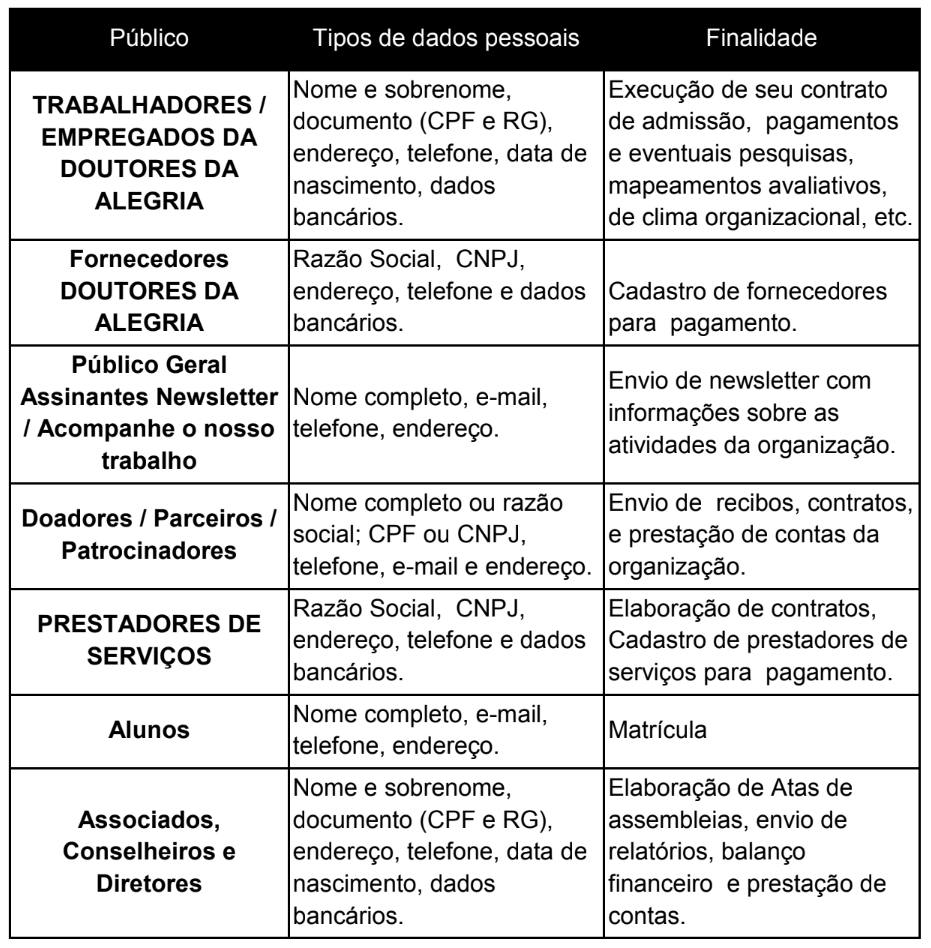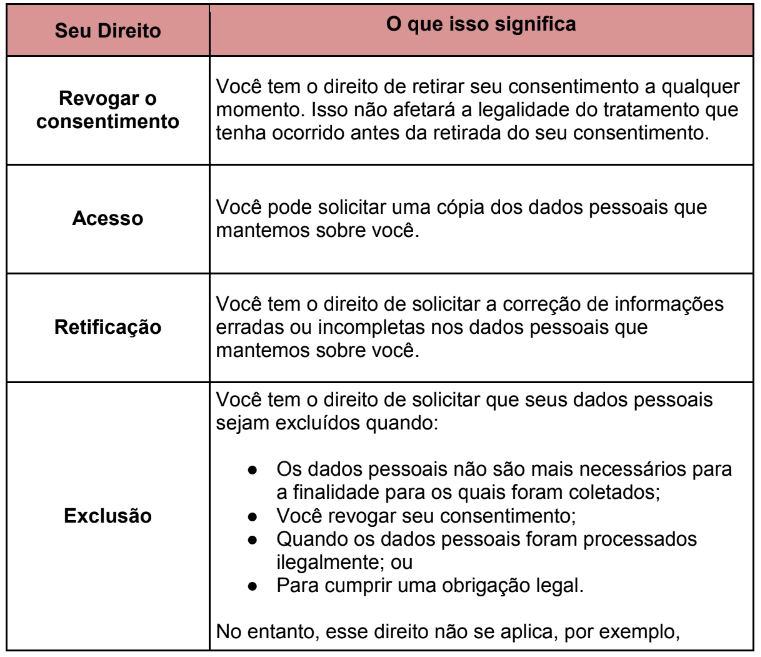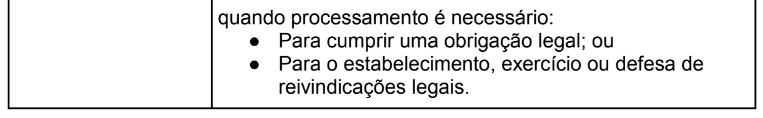A primeira vez em que eu vi Jessé, ele estava deitado na cama. O corpo tinha dificuldades para executar movimentos: o garoto não falava, suas mãos e suas pernas se moviam com muita lentidão e seu olhar fixo no teto branco da enfermaria.
Por alguns segundos, pensei: “Será que está me ouvindo? Será que me vê?”. Jessé, segundo o Google, significa “enviado de Deus, presente de Deus”. Aos 12 anos, ele já mostra um bigode ralo. Quando eu tinha 12 anos, morria de medo que nascesse bigode e cabelo no sovaco. Achava que ia ficar adulto e ser proibido de brincar na rua. Depois pensei que, se eu fosse uma criança com bigode, poderia mandar nas brincadeiras, ser o chefe, “o dono da bola”.
Era assim que funcionava com Jessé: ele comandava o jogo, a brincadeira, o encontro com os palhaços.
Sua mãe e seu pai estavam sempre ao seu lado, sorridentes, brincalhões e prontos para a brincadeira. Eles tratavam Jessé como o melhor presente enviado por Deus: era cafuné pra lá, alisado pra cá, cheirinho na testa aqui, sempre sorridentes.
Dia desses eu estava acompanhado de Dra. Musquita e Dr. Lui dentro da enfermaria de Jessé. O foco ainda não era ele, não havíamos chegado ao seu leito. Fiquei um pouco distraído e olhei em direção à cama da criança. O pensamento divagou: “Quando eu tinha 12 anos, sonhava em ser galã de novela, fazer teatro, ter poderes especiais. Já tinha reprovado em matemática e criava um coelho”.
Jessé estava com o seu olhar fixo no teto branco. Quais suas possibilidades?
Um lápis para uma criança pode virar avião; uma borracha se transforma em carro imaginário; uma panela, chapéu. E um teto branco? Certa vez ouvi dizer que, quando a gente nasce, nossa mente é como uma parede branca, limpa, vazia, pura. Com o tempo é que crescemos e vamos preenchendo esse branco com cores, gostos, experiências. Um teto branco é um mar de possibilidades, inclusive de colorir o branco com vários sorrisos.
Quando chegamos ao leito, encontramos seu pai e sua mãe, para variar, com sorrisos estampados nos rostos. Ele continuava ali, parado, deitado na cama, com uma faixa na cabeça. Eu disse que tinha preparado uma música e gostaria muito de cantar.
Eu e Dra. Musquita pegamos nossos chocalhos em formato de ovo e Dr. Lui aprumou o triângulo. Cantei um minuto de música com uma só palavra: “Pipiripiripipi…”. A música não saía disso.
– Ô Marmelo, só tem isso? Que música feia!, disseram os palhaços.
Jessé abriu um sorriso. Em seguida, perguntamos a ele se éramos bonitos, um por vez. Ele disse que sim com o polegar pra cima pra Musquita e pra mim; mas, na vez de Lui, botou o legal pra baixo, dizendo que não. Todos rimos de Lui, inclusive o Jessé.
A prosa foi boa, enquanto o paciente era acarinhado com cheiro e cafuné da mãe e do pai. Fiquei impressionado, mesmo sabendo que o quadro clínico dele era grave e delicado: a criança de bigode ralo estava respondendo da sua forma. E, lógico, acreditávamos em tudo que ele “falava”, pois já tinha bigode. Eu e meus parceiros de trabalho comentávamos como era lindo ver o carinho que os pais lançavam à criança, sempre confiantes, alegres, felizes e receptivos.
Semana passada, vimos o leito de Jessé vazio. Era uma cama perto da janela, o teto continuava branco e seus pais não estavam lá. Também não estavam mais a garrafa de água, as mochilas, as roupas, o forro de cama. Vazio.
Continuamos nossos atendimentos besteirológicos. Para nossa surpresa, pouco tempo depois, entra na enfermaria uma criança numa cadeira de rodas, controlando a cadeira com as próprias mãos. Bigode ralo, camisa de botão, calça jeans e uma faixa na cabeça. Veio determinada ao nosso encontro, como se fosse um presente!
– Oi, palhaços!
– Jessé?, perguntou Dr. Lui todo arrepiado.
A voz da criança era voz de criança. E, igual a um super-herói, o paciente mirim quis mostrar seu superpoder. Olhou pra gente e se levantou. Jessé estava andando, falando… Vibramos, pulamos, nos abraçamos! Jessé, a criança do bigode ralo!
Ele logo perguntou pela Musquita e falamos que estava avoando pelo mundo afora. Jessé contou que recebeu alta. “Como assim?”. Explicamos que quem tinha permissão para dar alta era a gente e que precisávamos averiguar se ele estava passando bem. Pedimos pra ele passar, andando de um ponto ao outro, voltar pra o ponto inicial e, depois, passar rebolando no ritmo da música.
Ele fez tudo direitinho. Concluímos então que estava “passando bem”, afinal de contas, passou de um lado pro outro com grande maestria.
– Você quer que a gente cante uma música pra você?, perguntei.
– Sim.
– Qual, Jessé?
– A do “pipiripiripipi”, palhaços!