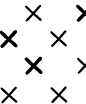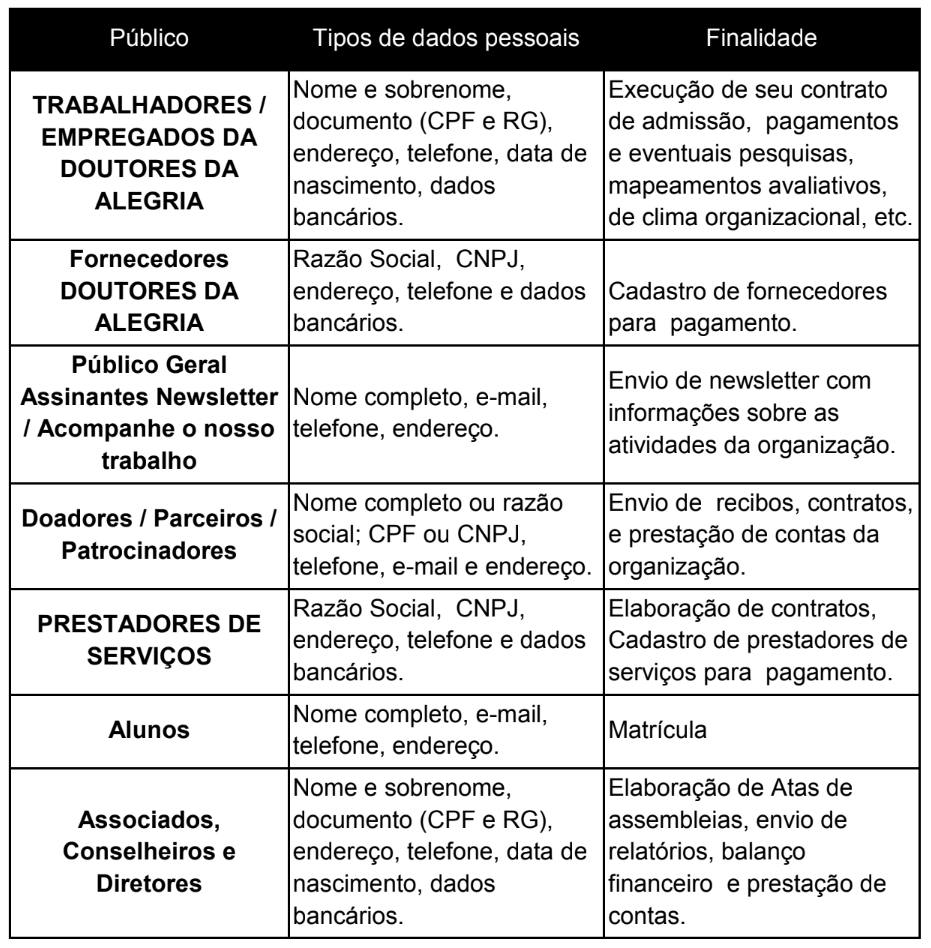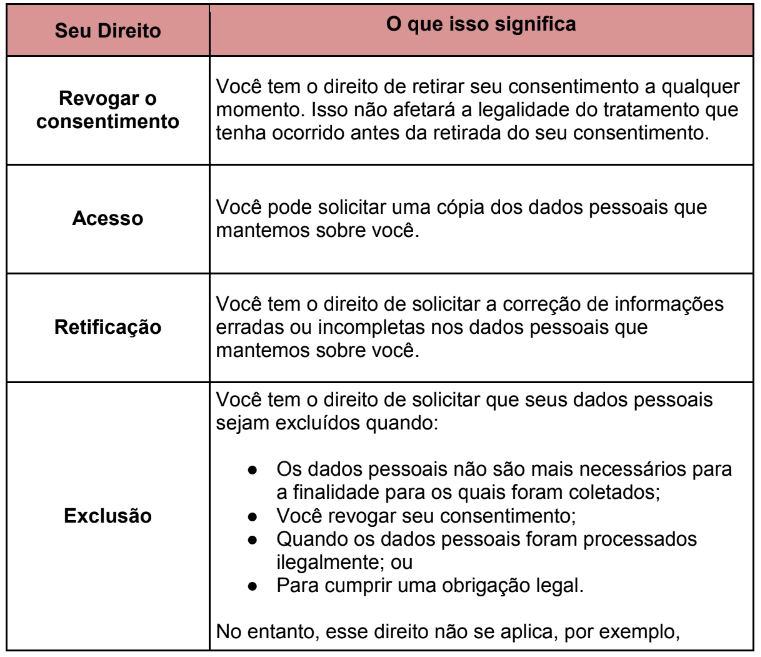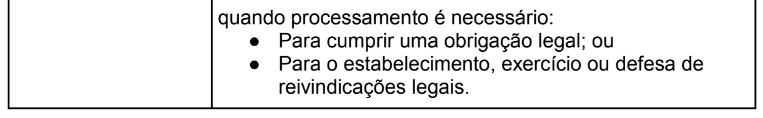Em 2008 descobrimos, através de uma pesquisa com o Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social, que depois da intervenção dos palhaços, 89,5% dos familiares começavam a brincar mais com as crianças hospitalizadas.
Esse dado foi significativo para afirmarmos que nossa ação contribui pra fortalecer o vínculo entre famílias e crianças, muitas vezes fragilizado pela situação de internação. Essa história de vínculo, que também é tema do documentário “O começo da vida” (2016), teve suas origens lá no século passado.
Em 1926, predominava a teoria de Sigmund Freud de que os bebês se apegavam aos seus cuidadores porque eles satisfaziam suas necessidades fisiológicas, como comer e dormir. Era o chamado “amor interesseiro”.
Em 1950, o psicanalista inglês John Bowlby trouxe uma perspectiva evolutiva: por serem totalmente indefesos, os recém-nascidos seriam geneticamente dispostos a criar laços afetivos com uma figura materna para garantir sua sobrevivência. O vínculo seria uma ligação carinhosa traduzida sob a forma de segurar, olhar, beijar e acariciar o bebê. Neste sentido, a separação entre ambos poderia ativar atitudes instintivas como insegurança e medo.
“O amor materno na primeira infância é tão importante para a saúde mental quanto vitaminas e proteínas para a saúde física”
John Bowlby (1907 – 1990)
Na teoria de Bowlby, a ligação mãe-bebê deveria ser estabelecida no primeiro ano de vida – ou, no máximo, antes de a criança completar dois anos – como forma de garantir o vínculo para toda a vida e de determinar um modelo de relacionamento que a criança usasse para compreender a si própria, os outros e o mundo. Aspectos como a confiança em outras pessoas, a valorização de si e o sentimento de segurança na sociedade seriam determinados a partir do vínculo materno.
Apesar de pioneira, a chamada Teoria do Apego foi bastante criticada por dar pouco valor aos laços afetivos entre pais e seus bebês – para Bowlby, os pais não teriam importância emocional direta. Pesquisas vieram depois, com psicólogos como Rudolph Schaffer e Ross Parke, para indicar que os homens seriam dotados das mesmas capacidades de que as mulheres para prover sensibilidade e afeto aos filhos.
Assim, o desenvolvimento de uma criança não seria determinado pelo sexo do seu cuidador, e sim pela força e pela qualidade do vínculo estabelecido. E estudos posteriores foram mais longe: bebês e crianças pequenas formariam uma grande variedade de laços afetivos com pessoas além de suas mães – e a regra, não a exceção, talvez seria ter vínculos múltiplos. “O começo da vida” retrata bastante esse conceito com a perspectiva de que a comunidade também é responsável pela criação de nossas crianças.
Todas essas descobertas foram importantes para tirar o estigma de que as mulheres não deveriam trabalhar após a maternidade. Aliás, outras pesquisas também indicavam que filhos de mulheres satisfeitas com a profissão obtinham um desenvolvimento melhor do que filhos de mães frustradas por terem de ficar em casa.
Quando as crianças passam por uma longa internação, muitas vezes a frustração dos familiares é evidente. Semanas dormindo na cadeira nada confortável do hospital público, a gravidade da doença do filho, o tratamento lento, o cansaço daquela rotina. Choro, medicação, noites em claro, enfermarias compartilhadas. Muitos pais e mães precisam abdicar de seus empregos. E, às vezes, abrir mão de sua própria trajetória.
É por isso que fortalecer o vínculo entre as crianças e seus familiares já é parte essencial de um trabalho que é, antes de tudo, apoiado no fazer artístico. Os palhaços subvertem a rotina do hospital e propõem novos sentidos para a experiência de internação, trazendo uma brisa (ou uma ventania!) para a rotina hospitalar.
Porque sim, todos somos responsáveis pelas nossas crianças, e cuidamos delas como podemos: como pais, como médicos, como enfermeiros, como palhaços.